
Para que o leitor não se engane com relação a este texto, não
trataremos a questão da ética como comumente é tratada: uma série de
conselhos (de moral religiosa ou vitoriana), sobre como o sujeito
deveria se comportar em determinada situação. Não consideraremos, neste
contexto, a deontologia, ou seja, como o eleitor “deveria ser” no
contexto democrático brasileiro. Tomaremos por ética o seu sentido mais
radical, o ethos grego, que significava casa, morada. Como a
casa era a unidade básica da sociedade escravocrata antiga, onde
habitava a família (do latim famulus, servo ou escravo) era,
portanto onde se cultivavam os “costumes”. Tomaremos o termo “ética”
como uma síntese social de comportamentos, a fim de compreendermos o
eleitor brasileiro e sua vivência democrática.
E claro que somos motivados pela necessidade de compreender o ódio
verificado nos dois últimos pleitos, os quais, diante do resultado
final, houve (e há) manifestações extremadas de aversão,
segregacionistas, racistas e até mesmo grupos que pedem abertamente a
implantação e intervenção do fascismo no governo brasileiro. O que chama
a atenção é o fato da completa passividade do eleitor durante os
mandatos, para se transformar em um ser completamente ativo conforme se
aproximam os dias das eleições. O espaço de tempo entre o primeiro e o
segundo turno é uma panela de pressão de ódio, que foi abundantemente
destilado nos dias que se seguiram ao resultado final. Como explicar tal
contradição?
Temos então a necessidade de um olhar mais acurado sobre este
fenômeno: quem são os grupos que se digladiam tão ferozmente? Observemos
que são pessoas que constituem a mesma faixa de classe social: a classe
média. É justamente o eleitor das classes sociais medianas e urbanas
(tanto em termos de ganho, nível de escolaridade e ocupação) que se
transforma no portador do odium eleitoral. Tanto as classes
ricas (falamos das verdadeiramente ricas, e não a classe média que
acredita ser rica) quanto as classes pobres, por terem projetos
políticos mais claros e objetivos e também manobras políticas mais
efetivas do que as ineficientes manifestações e mobilizações virtuais da
classe média, ficam em silêncio com o resultado da eleição: para essas
classes, política se faz com pressão política durante o mandato, e para
atender aos seus interesses mais imediatos.
Claro que esta situação acontece também pelas opções históricas da
forma e conteúdo da política. Optamos por uma democracia cujo voto é
obrigatório. Optamos pelo esvaziamento político e ideológico capitaneado
pelos partidos. Optamos por eleger os candidatos pela força da imagem, e
não pela força das ideias. A vivência democrática brasileira, mais que
tardia, é vazia de sentido e repleta de imagens e de imaginação.
Diante
de tal panorama, onde podemos fundamentar o comportamento do eleitor
brasileiro? Onde reside sua ética? Por um lado, temos a precariedade das
instituições democráticas, e por outro, temos o futebol como esporte e
atividade social estruturante da sociedade no século XX. O brasileiro
pode não ter se acostumado à vivência política, mas está plenamente
assimilado à vida futebolística. Desta forma, seu padrão de conduta não é
a do cidadão, mas do torcedor: aquele que grita, chora, ri, faz
barulho, briga se for necessário. Mas quando chega em casa abre uma
cerveja e se afunda no sofá.
Nossa política não tem cidadãos, mas sim torcedores. O problema é que
esses “torcedores” infantilmente expressam simpatias por ideologias que
já provaram ser destrutivas à humanidade, o que pode corroborar a
implantação de tais regimes no futuro.
Um sério debate se faz
necessário, e urgente.
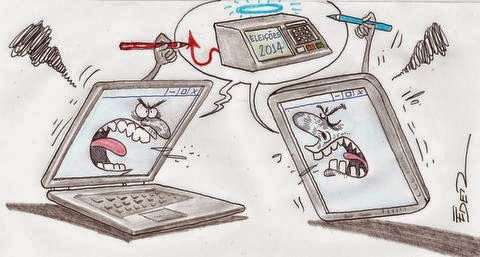
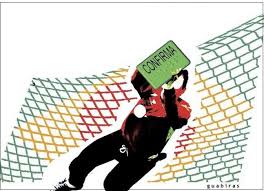
Nenhum comentário:
Postar um comentário